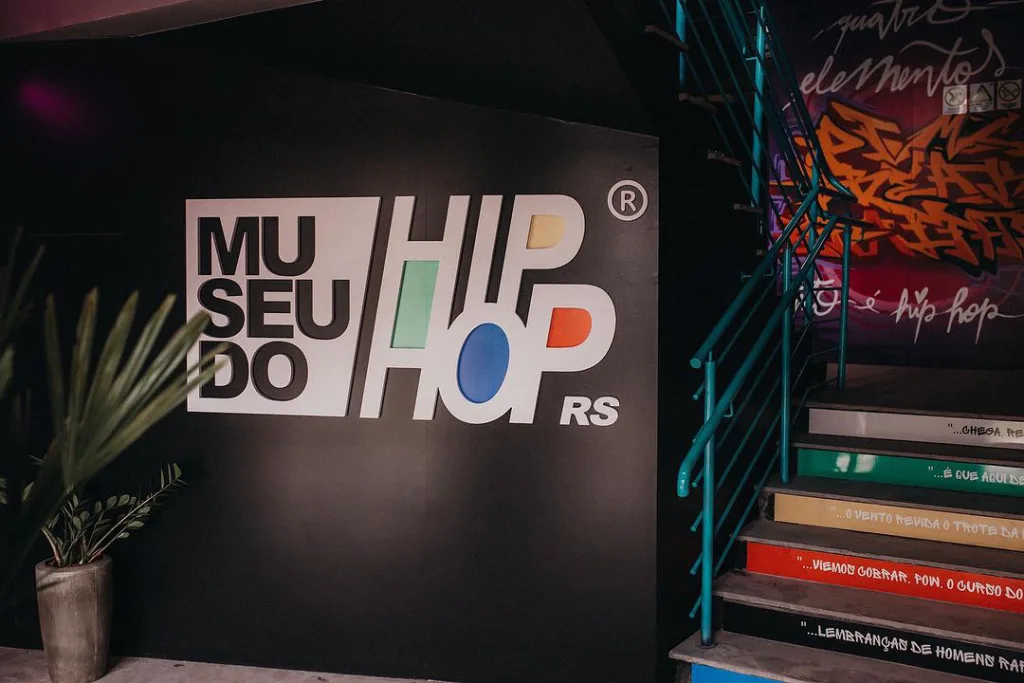CPI dos Pancadões expõe o preconceito contra o funk e reacende a luta pela valorização da cultura periférica.
Entre microfones e microfones desligados, a CPI dos Pancadões em São Paulo revela que o problema não é o som alto, é o medo da potência cultural das periferias. Artistas como Salvador da Rima, Thiago de Souza, MC Dricka, defendem o funk como forma de resistência e emancipação social.
A criação da CPI dos Pancadões pela Câmara Municipal de São Paulo, em abril de 2025, reacendeu um velho debate sobre o papel da cultura nas periferias e o modo como o Estado lida com ela. Oficialmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada para investigar possíveis omissões de órgãos públicos na fiscalização de eventos de rua considerados “perturbação do sossego”. Mas, para quem vive, canta e constrói o cotidiano dessas manifestações, o que está em jogo vai muito além do volume do som: trata-se do direito de existir, de se expressar e de ocupar o espaço público.
Os pancadões são bailes de funk realizados em ruas e vielas das quebradas paulistanas, e há décadas, um dos principais pontos de encontro da juventude periférica. São lugares de lazer, sociabilidade e afirmação cultural. O que para uns é “barulho”, para outros é o único espaço de diversão acessível, uma forma de celebrar a vida em meio às vulnerabilidades e carências de políticas públicas de lazer e cultura. A criminalização dos pancadões, portanto, não é apenas uma disputa sobre decibéis: é um sintoma da dificuldade histórica do poder público em reconhecer e valorizar as expressões que nascem da periferia.
Um dos principais nomes a se manifestar sobre o tema é Salvador da Rima, rapper e funkeiro da zona leste de São Paulo, símbolo da resistência cultural das quebradas. Em sua fala durante a CPI, ele foi direto:
“O baile é o lazer da quebrada. Onde não tem esporte, nem cultura, o povo dança pra esquecer a dor. Não é crime querer se divertir.”
Para Salvador, o problema nunca foi o som, mas o preconceito:
“O que a gente canta vem da realidade. O problema não é a música, é o preconceito com quem faz.”
As palavras ecoam uma história repetida. Capoeira, samba, RAP, todas essas manifestações foram criminalizadas antes de serem reconhecidas como símbolos da cultura brasileira. A capoeira, no final do século XIX, era considerada crime pelo Código Penal. O samba foi perseguido pela polícia nas décadas de 1930 e 1940. O RAP, nos anos 1990, foi estigmatizado como “coisa de marginal”. Hoje, o funk, e especialmente os pancadões, enfrentam o mesmo processo de marginalização, agora travestido de discurso de “ordem pública”.
Mas a história mostra que a repressão cultural nunca venceu o desejo de expressão. Ao contrário, a cultura periférica se fortalece justamente nas brechas, reinventando-se a cada tentativa de silenciamento. O funk, o RAP, o graffiti, o slam, o baile, todos nascem da necessidade de dizer “nós existimos”, de reivindicar visibilidade e dignidade. Como disse Salvador da Rima em sua música Vim da Lama:
“Meu objetivo com essa música é fazer com que as pessoas prestem atenção para o que eu canto.”
Prestar atenção: é disso que se trata. Ouvir o que a periferia tem a dizer. Entender que o baile não é crime, mas consequência de uma cidade desigual, onde o lazer, o transporte e os equipamentos culturais são concentrados nos mesmos territórios de sempre. Quando a juventude se apropria das ruas para cantar e dançar, está também denunciando essa desigualdade, e propondo, ainda que de forma espontânea, um novo tipo de ocupação urbana.
Nas audiências da CPI, professores, artistas e pesquisadores deixaram claro que associar o funk ao crime é uma falácia. Um professor de música lembrou:
“Já foi comprovado por outras CPIs que não existe ligação direta entre o funk e o crime. Isso aqui é uma tentativa de deslegitimar uma manifestação cultural.”
O cientista social conhecido como Chavoso da USP, que também prestou depoimento, foi ainda mais incisivo:
“Enquanto o funk produzido nas periferias, majoritariamente negro, continua sendo reprimido, o mesmo ritmo tocado em clubes de elite é celebrado como cultura.”
A contradição é evidente. O que muda não é o som, é o CEP de quem produz. O que se pune, portanto, não é o volume, mas a origem social. E é por isso que a defesa da cultura periférica é também uma defesa da justiça social.
Mais do que apontar culpados, a discussão sobre os pancadões deveria abrir caminho para políticas públicas que incentivem e valorizem essas expressões. É possível, e urgente, criar espaços culturais nas periferias, promover festivais comunitários, editar programas de incentivo à arte urbana e garantir que artistas de funk e RAP sejam incluídos nos circuitos oficiais de cultura. É fundamental também educar para o respeito à diversidade cultural, começando pelas escolas, onde o funk e o RAP ainda são vistos com desconfiança.
A juventude das quebradas não precisa de mais proibições, precisa de oportunidades. O baile pode ser organizado, sim, mas nunca silenciado. O Estado deve ouvir e construir junto, e não apenas chegar com sirene ligada. Como disseram alguns participantes da CPI, “é papel do governo criar condições, não eliminar expressões”.
A CPI dos Pancadões é, portanto, um espelho. Ela reflete o quanto o país ainda se incomoda com o barulho da periferia, não pelo som, mas pelo que ele representa: autonomia, potência, alegria, vida. O funk, assim como o samba e a capoeira um dia foram, é o grito de uma classe que aprendeu a resistir dançando. E como lembra Salvador da Rima:
“Minha música sempre estará retratando tudo que já vivi.”
Enquanto houver quem dance, quem cante e quem conte sua história, a cultura periférica seguirá viva, e seguirá libertando.